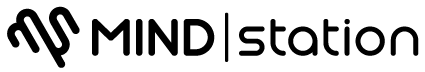Em um estúdio simples, em algum lugar dos Estados Unidos, um psiquiatra conversa com um guru indiano sobre aquilo que deveria ser o maior tesouro do século XXI: a mente humana. Poderia ser só mais uma transmissão entre tantas conversas sobre espiritualidade e autoajuda nas redes. Mas um dado atravessa o diálogo como um soco: mais de 1 bilhão de pessoas vivem hoje com algum transtorno de saúde mental, da ansiedade à depressão grave, e esses números continuam subindo.
Esse alerta não é novo, mas está mais nítido. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 2019, cerca de 15% dos adultos em idade de trabalho têm algum transtorno mental. A depressão e a ansiedade, juntas, fazem o mundo perder cerca de 12 bilhões de dias de trabalho por ano, o que representa um custo estimado em 1 trilhão de dólares em produtividade perdida. Ao mesmo tempo, apenas uma parte pequena das pessoas com depressão recebe um tratamento minimamente adequado.
No Brasil, o efeito aparece com força. Em 2024, foram mais de 472 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados oficiais. Esse número representa um aumento de 68% em relação a 2023 e é o maior da década. Empresas convivem com falta de foco, esgotamento, afastamentos repetidos e dificuldade para manter equipes em áreas de alta pressão.
Apesar disso, governos destinam, em média, cerca de 2% dos seus orçamentos de saúde para a saúde mental. Em muitos países de baixa renda, o gasto anual por pessoa não chega a um dólar. Em países ricos, ele é maior, mas ainda muito distante do tamanho do problema.
Não se trata apenas de um “assunto de saúde”. A expansão rápida e contínua do sofrimento psíquico é um teste da capacidade das sociedades de se governarem, de educar suas crianças, de organizar o trabalho e de distribuir riscos em um mundo em que as fronteiras entre on-line e off-line, local e global, crise e oportunidade estão cada vez mais misturadas.
Quantas mentes em sofrimento são necessárias para chamar isso de crise?
Durante muito tempo, a saúde mental foi vista como algo “à parte”: tema de consultórios, hospitais psiquiátricos, manchetes pontuais e conversas cheias de preconceito. Essa fase está acabando. Hoje, os números mostram uma realidade difícil de ignorar.
Relatórios recentes da OMS indicam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade, transtornos bipolares, esquizofrenia e dependência de substâncias. Isso afeta não só a qualidade de vida, mas também a expectativa de vida, as relações familiares e o desempenho no trabalho.
As projeções sobre depressão são especialmente preocupantes. Estudos que analisam a carga global de doença indicam que, até 2030, a depressão estará entre as principais causas de perda de anos de vida produtiva no planeta, ao lado de doenças cardíacas e de algumas infecções graves. Em termos simples: a forma como as pessoas estão sofrendo emocionalmente tende a pesar tanto quanto muitos problemas físicos que sempre dominaram a atenção da medicina.
A economia já sente esse impacto. Em países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), estimativas apontam que os custos ligados a problemas de saúde mental, como queda de produtividade, afastamentos prolongados, aposentadorias precoces, gastos com saúde e benefícios sociais, podem passar de 4% do PIB. Empresas enxergam isso no dia a dia, na dificuldade de manter equipes estáveis e na perda de desempenho em áreas que dependem de alta concentração e criatividade.
No Brasil, além do aumento de afastamentos por depressão e ansiedade, cresce a preocupação com o sofrimento emocional de crianças e adolescentes. Relatórios de instituições públicas e de organizações internacionais mostram que os jovens se tornaram um grupo especialmente vulnerável, com mais sinais de tristeza profunda, automutilação e pensamentos suicidas. Um exemplo é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2019), feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que identificou percentuais importantes de estudantes do 9º ano relatando tristeza frequente, solidão e ideação suicida em todo o país. Outro exemplo é o relatório do UNICEF sobre saúde mental de crianças e adolescentes, que estima que pelo menos uma em cada sete pessoas entre 10 e 19 anos no mundo vive com algum transtorno mental, reforçando a ideia de que essa faixa etária está no centro da crise.
Mesmo assim, o dinheiro investido em saúde mental permanece muito abaixo do necessário. Em média, países destinam menos de 2% de seus orçamentos de saúde para essa área, e boa parte ainda vai para hospitais psiquiátricos, modelos que nem sempre dialogam com prevenção e atenção comunitária. Em países pobres, o gasto anual por pessoa é irrisório. Em muitos lugares, não há sequer um profissional de saúde mental para cada 100 mil habitantes.
Nossos cérebros conseguem acompanhar a velocidade do mundo?
Uma explicação comum para a crise mental é biológica: fala-se em genes, neurotransmissores, circuitos cerebrais “desajustados”. Tudo isso tem sua importância. Mas há uma pergunta incômoda: se a biologia muda devagar, por que a explosão de casos acontece em poucas décadas?
Uma parte grande da resposta tem a ver com a velocidade da mudança social e tecnológica. Nossos cérebros foram moldados ao longo de centenas de milhares de anos para lidar com mudanças graduais: estações do ano, variações de colheita, crises pontuais… Agora, quase tudo muda ao mesmo tempo, o tempo todo.
O que antes era esperado aos 30 anos, estabilidade profissional, decisões sobre família, papel social, passou a recair sobre jovens de 18 ou 20. Ao mesmo tempo, crianças de 10 ou 12 anos são expostas a notícias de guerras, crises climáticas e desastres, além de passarem horas por dia em ambientes digitais onde são comparadas com outras crianças e com adultos o tempo inteiro.
Pesquisas em sociologia da juventude mostram que os conflitos atuais deixaram de ser apenas por recursos materiais (como emprego e moradia) e passaram também a ser por identidade, pertencimento e reconhecimento. Redes sociais e plataformas digitais, movidas por algoritmos de recomendação, reforçam essa disputa simbólica: a linha do tempo privilegia conteúdos que geram emoção forte, polêmica, medo e indignação, porque isso mantém as pessoas por mais tempo conectadas.
Antes da pandemia da covid-19, indicadores de depressão e ansiedade já cresciam entre adolescentes e jovens adultos em vários países. A pandemia piorou esse quadro, afetando especialmente mulheres, jovens, pessoas de baixa renda e grupos já em situação de vulnerabilidade. O fechamento de escolas, a perda de convivência presencial e o medo de adoecer ou perder familiares criaram um terreno fértil para crises emocionais.
O efeito dessa combinação é duplo. De um lado, o mundo cobra mais: acompanhar informação em ritmo acelerado, conviver com incertezas econômicas, mudar de carreira mais vezes, se adaptar a tecnologias novas, viver em cidades estressantes. De outro lado, a experiência do tempo fica quebrada: é difícil organizar a própria vida em uma narrativa coerente quando tudo acontece na mesma tela: trabalho, notícias, conversas, compras, entretenimento.
A mente tenta construir uma história lógica no meio desse turbilhão de informações. Em muitas pessoas, essa tarefa se torna desgastante demais.
O que acontece quando as antigas “âncoras” da vida se desfazem?
A velocidade do mundo seria menos destrutiva se estivesse apoiada em estruturas sociais firmes. O problema é que essas estruturas, as chamadas “âncoras emocionais”, também estão se desfazendo.
Família, religião, comunidade local, sindicatos e associações de bairro foram, durante muito tempo, fontes de sentido e de proteção emocional. Hoje, em muitas sociedades, esses espaços estão enfraquecidos.
As famílias mudaram. As pessoas se casam mais tarde, têm menos filhos, se separam mais. A mobilidade geográfica é maior, o que pode significar oportunidades, mas também laços menos duradouros com vizinhos, parentes e amigos de infância. Em alguns países, idosos vivem sozinhos; em outros, jovens adultos seguem na casa dos pais sem conseguir autonomia financeira, o que prolonga tensões e dependências.
A religião, que muitas vezes oferecia rituais de passagem, apoio comunitário e um conjunto de valores compartilhados, perdeu força em partes do mundo, especialmente entre jovens urbanos. Em muitos contextos, não há mais uma linha clara do que significa “virar adulto”. A entrada na vida adulta deixa de ser marcada por momentos nítidos (como casamento, emprego estável, filhos) e se transforma em um processo longo, confuso e, muitas vezes, solitário.
É verdade que, em outros lugares, instituições religiosas seguem fortes ou até ganham poder político, especialmente em debates sobre família, moralidade e costumes. Mas isso nem sempre significa proteção psicológica. Em ambientes muito polarizados, templos, igrejas e grupos de fé podem ser, ao mesmo tempo, fonte de acolhimento e palco de conflitos intensos.
Tudo isso alimenta um tipo de insegurança emocional difícil de nomear. As pessoas passam a ter muitas opções de como viver, o que em tese é bom, mas com poucas referências estáveis. A liberdade de escolher vira um peso quando a pessoa não tem apoios internos e externos suficientes para tomar tantas decisões e, para lidar com o medo de “escolher errado”.
Não é à toa que a expressão “crise de ansiedade” se tornou tão comum: aparece em conversas de trabalho, em séries de TV, em letras de música, em desabafos nas redes sociais.
O ambiente em que vivemos está ajudando ou atrapalhando nossa mente?
O mal-estar atual não é apenas psicológico ou social. Ele também é influenciado pelo ambiente físico em que vivemos.
Ao longo do século XX, a agricultura se industrializou. Isso permitiu aumentar a produção de alimentos, mas teve custos para o solo. Diversos relatórios técnicos apontam que uma parte importante das terras agrícolas do mundo mostra sinais de desgaste: perda de matéria orgânica, compactação, erosão e queda da biodiversidade. Isso significa que, aos poucos, o solo produz alimentos mais pobres em alguns nutrientes.
Micronutrientes como magnésio, zinco, ferro, vitaminas do complexo B e ácidos graxos ômega-3 são essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Quando a dieta é baseada em alimentos ultraprocessados e em produtos que priorizam quantidade e durabilidade, e não qualidade nutricional, as pessoas podem ficar mais vulneráveis a desequilíbrios que afetam humor, energia e clareza mental. Estudos nessa área ainda estão em andamento, mas já sugerem ligações importantes entre carências nutricionais e sintomas de depressão e ansiedade. Uma revisão publicada em 2023 na revista Nutrients, por exemplo, analisou a relação entre deficiências de nutrientes específicos e risco de depressão e concluiu que baixos níveis de vários micronutrientes, incluindo vitaminas do complexo B, zinco, magnésio e ômega-3, estão associados a maior probabilidade de quadros depressivos.
Além disso, estamos expostos a um conjunto de substâncias químicas que praticamente não existiam, em grande escala, na maior parte da história humana. Pesticidas, metais pesados, microplásticos e substâncias que interferem em hormônios estão presentes na água, no ar e em muitos alimentos. Relatórios de agências reguladoras e de organizações independentes mostram aumento da contaminação por agrotóxicos em águas superficiais e em alimentos, inclusive em países que são grandes produtores agrícolas. No Brasil, por exemplo, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), coordenado pela Anvisa, divulga periodicamente resultados de monitoramento e têm encontrado resíduos de diferentes pesticidas em uma parte significativa das amostras de alimentos de origem vegetal consumidos pela população.
Nada disso quer dizer que a crise de saúde mental seja, antes de tudo, uma questão de “veneno” ou “falta de vitamina”. Mas isso ajuda a desenhar um quadro no qual o corpo e o cérebro das pessoas são expostos, dia após dia, a combinações de pouca nutrição de qualidade e muita substância estranha. O cérebro, que representa só 2% do peso corporal, mas consome cerca de 20% da energia em repouso, é muito sensível a qualquer alteração metabólica.
Como se não bastasse, há também a “poluição de informação”. A dieta mental de muitas pessoas é composta de notícias negativas, discussões agressivas, comparações constantes e doses diárias de medo e indignação. Plataformas digitais são desenhadas para prender a atenção, e o conteúdo que mais prende costuma ser emocionalmente carregado.
O resultado é um sistema nervoso que quase não descansa: cafeína para acordar, ultraprocessados para aguentar o dia, redes sociais para evitar o silêncio, pouco sono para dar conta de tudo. A palavra “esgotamento” deixa de ser um exagero e passa a descrever com precisão o que muita gente sente. Do ponto de vista da neurociência, isso significa manter o organismo em estado de alerta contínuo: o estresse crônico ativa o eixo hipotálamo–hipófise–adrenal e aumenta de forma prolongada a liberação de cortisol, hormônio que, em excesso, está ligado a perda de memória, dificuldade de atenção e alterações de humor, por afetar regiões como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Ao mesmo tempo, dormir pouco ou mal compromete a “limpeza” de resíduos no cérebro, piora o raciocínio, desregula emoções e aumenta a inflamação no corpo, elevando o risco de ansiedade, depressão e várias doenças físicas. Quando a alimentação é rica em ultraprocessados, o quadro se agrava: esse padrão de dieta está ligado a mais inflamação, alterações do intestino e maior chance de sintomas de depressão e ansiedade, o que fecha um ciclo em que corpo e mente se mantêm em estado de desgaste permanente.
Quando a vida vira piloto automático, o que acontece com a nossa liberdade de escolha?
O guru indiano da abertura do texto costuma dizer que, por trás dos muitos diagnósticos psiquiátricos, existe um ponto comum: a compulsividade. Trata-se de Sadhguru (Jaggi Vasudev), yogi e escritor indiano nascido em 1957, fundador da Isha Foundation, organização sem fins lucrativos que oferece programas de yoga e ações sociais e ambientais em vários países, e que já discursou em fóruns como a ONU e o Fórum Econômico Mundial. Ele é autor de livros que entraram em listas de mais vendidos, como Inner Engineering e Karma, e tornou-se uma das vozes mais influentes da espiritualidade contemporânea, ainda que também seja alvo de críticas por algumas afirmações consideradas pouco alinhadas ao consenso científico. Para ele, o sofrimento mental começa quando o pensamento deixa de ser uma ferramenta a serviço da pessoa e passa a comandá-la, isto é, quando a mente “pensa sozinha”, repetindo padrões negativos, sem que a pessoa sinta que tem escolha.
A ciência não usa os mesmos termos, mas observa fenômenos parecidos.
No transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), por exemplo, os pensamentos intrusivos e os comportamentos repetitivos parecem “invadir” a mente. Em dependências, seja de substâncias ou de comportamentos, circuitos de recompensa do cérebro se ativam de forma automática diante de determinados estímulos. Em quadros de ansiedade generalizada, a pessoa passa horas ruminando preocupações que não consegue desligar, mesmo sabendo que elas estão exageradas.
O ambiente digital atual reforça esse tipo de funcionamento. Plataformas são desenhadas para aproveitar justamente essas brechas da mente. A combinação de notificações, rolagem infinita, recompensas imprevisíveis (o próximo vídeo pode ser ótimo) e validação social (curtidas, comentários, compartilhamentos) cria um ciclo no qual é muito fácil entrar e muito difícil sair. Com o tempo, checar o celular a cada poucos minutos se torna automático. Responder mensagens imediatamente vira reflexo. Ver “só mais um vídeo” é quase irresistível. Muitas pessoas descrevem a sensação de não conseguir se desconectar, mesmo quando querem.
Quando a mente passa grande parte do dia nesse modo automático, a sensação de comando diminui. A pessoa deixa de sentir que escolhe, de fato, o que pensa, o que vê e o que faz com o próprio tempo. Essa perda de sensação de controle, mais do que a presença ou não de um diagnóstico formal, pode ser o verdadeiro centro da crise contemporânea.
Quanto custa, em dinheiro, um mundo que não cuida da própria mente?
Mesmo que alguém não se sensibilize com o sofrimento humano, há um argumento que é difícil ignorar: o financeiro.
Relatórios da OMS, da OCDE e de bancos de desenvolvimento apontam na mesma direção: transtornos mentais como depressão e ansiedade, somados a outros problemas de saúde, geram perdas enormes de produtividade e aumentam gastos públicos e privados. A OMS calcula que ansiedade e depressão, sozinhas, fazem o mundo perder cerca de 1 trilhão de dólares por ano em produtividade. Estudos da OCDE estimam que problemas de saúde mental, no sentido amplo, podem representar mais de 4% do PIB em vários países, quando se somam menos produtividade, ausência no trabalho, desemprego, gastos com saúde e benefícios sociais.
Empresas começam a entender que esse tema não é apenas “coisa do RH” ou de responsabilidade social, mas uma questão central de gestão de risco. Grandes investidores pressionam companhias de tecnologia, varejo e serviços a mostrar políticas concretas de apoio psicológico, depois de constatar que a maioria responde apenas de forma pontual, com ações isoladas e sem estratégia clara.
Apesar de tudo isso, o dinheiro destinado à saúde mental ainda é pouco e mal distribuído. Como já mencionado, em muitos países menos de 2% do orçamento de saúde vai para essa área. Em vários lugares, boa parte desse valor se concentra em hospitais psiquiátricos e não em ações de prevenção, cuidado comunitário ou programas de reinserção social e profissional.
Existem, porém, estudos que mostram que investir melhor pode trazer retorno. A Organização Mundial da Saúde estima que, para cada 1 dólar investido na ampliação do tratamento para depressão e ansiedade, há um retorno de cerca de 4 dólares em melhor saúde e capacidade de trabalho. Relatórios como o da Deloitte no Reino Unido indicam que programas de bem-estar e saúde mental podem gerar, em média, de 4 a 5 libras de retorno para cada 1 libra investida, principalmente por redução de afastamentos, presenteísmo e rotatividade.
É claro que quando esses programas são planejados de forma genérica, o impacto tende a ser menor. Estudos recentes sugerem que intervenções adaptadas à realidade de cada empresa, considerando nível de estresse, tipo de função, jornada, cultura interna e perfil dos times, trazem resultados mais consistentes, com melhora de sono, redução de estresse e queda em indicadores de presenteísmo entre funcionários com maior sofrimento psicológico. Em outras palavras, empresas que saem do modelo “pacote pronto” e constroem ações sob medida têm mais chance de ver, ao mesmo tempo, redução de custos e equipes mais engajadas.
Remédio, terapia ou meditação: o que realmente ajuda?
Diante de tantos sintomas e sofrimento, o que o mundo tem oferecido como resposta? Em geral, duas frentes principais: medicamentos psiquiátricos e psicoterapia. Nos últimos anos, práticas como meditação e atenção plena também entraram com mais força nessa conversa.
Medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor e antipsicóticos podem salvar vidas e reduzir crises. Eles ajudam a diminuir sintomas muito intensos, facilitando o dia a dia de quem sofre. Terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, ajudam a pessoa a entender seus pensamentos, emoções e comportamentos e a experimentar formas mais saudáveis de lidar com a realidade. A combinação de remédios e terapia é, hoje, o padrão recomendado para muitos quadros.
Mas há limites claros. Remédios costumam atuar sobre os sintomas, e não sobre as causas sociais, econômicas e ambientais que muitas vezes estão na raiz do sofrimento. É difícil esperar que apenas uma pílula resolva os efeitos de um trabalho tóxico, de uma rotina de sono destruída, de uma cidade que suga o tempo e da insegurança constante de perder a renda. A terapia, por sua vez, pode ser um grande apoio, mas é cara e pouco acessível para muita gente. Em vários países, há falta de psicólogos e psiquiatras, filas longas e coberturas limitadas em planos de saúde. Em outros, o tabu e a falta de informação afastam pessoas que poderiam se beneficiar desse tipo de ajuda.
Nos últimos anos, programas de meditação e atenção plena ganharam espaço. Ensaios clínicos e revisões científicas apontam que práticas de mindfulness, quando aplicadas de modo estruturado, podem ter resultados comparáveis aos de algumas intervenções convencionais em casos leves e moderados de ansiedade e depressão, especialmente quando usadas junto com outras formas de cuidado. Uma meta-análise publicada na JAMA Internal Medicine, por exemplo, mostrou que programas de redução de estresse baseados em mindfulness produziram grande melhora em sintomas de ansiedade, depressão e dor, com efeitos semelhantes aos observados com o uso de alguns antidepressivos em quadros leves a moderados. Outra revisão sistemática, na revista Clinical Psychology Review, encontrou evidências de que intervenções de mindfulness ajudam a reduzir recaídas em depressão recorrente e melhoram a regulação emocional em diferentes grupos, incluindo trabalhadores sob alta pressão.
O perigo é transformar essas práticas em “curativos” usados apenas para manter as pessoas funcionando em sistemas que continuam adoecendo. É comum ver empresas criarem salas de meditação e oferecerem aplicativos de bem-estar, mas manterem as mesmas metas inalcançáveis, jornadas extensas e cultura de resposta imediata a mensagens fora do horário. A pessoa respira fundo, volta à cadeira e segue presa ao mesmo ciclo. Nesse cenário, até técnicas bem validadas pela ciência acabam virando paliativo, e não proteção real.
Uma saída mais honesta e promissora exige juntar o melhor da psiquiatria baseada em evidências com o melhor das tradições contemplativas, que há séculos estudam como treinar a atenção, cuidar da mente e se relacionar com pensamentos difíceis sem ser engolido por eles. Isso inclui olhar a mente como um fenômeno que envolve cérebro, corpo, respiração, contexto e cultura, não apenas como um conjunto de reações químicas isoladas. E, sobretudo, mudar o foco do “apagar incêndio” para a prevenção: em vez de usar mindfulness e outras práticas apenas para tentar remediar crises já instaladas, o melhor dos mundos é tratar a saúde mental dentro das empresas antes do problema aparecer, como parte da estratégia central do negócio.
Mesmo organizações que vivem apagando incêndios e lidando com resultados de curto prazo precisam olhar para isso: investir em programas consistentes de saúde mental, que combinem ambiente de trabalho mais saudável, formação em habilidades emocionais e práticas como mindfulness bem estruturadas, não é luxo nem modismo; é uma forma de reduzir o número de crises futuras, preservar pessoas-chave e construir uma base mais estável para qualquer resultado que a empresa queira alcançar.
Como sair do piloto automático e assumir responsabilidade pelo futuro da mente?
A crise global de saúde mental revela um paradoxo da nossa época. Em teoria, nunca tivemos tantas ferramentas para reduzir o sofrimento psicológico: medicamentos, terapias, pesquisas em neurociência, práticas de meditação, programas de bem-estar, conteúdos educativos. Na prática, nunca tantas pessoas pareceram tão cansadas, ansiosas, vazias ou desmotivadas.
Buscar um único culpado é tentador, mas não ajuda. Culpar apenas “fraqueza individual” ignora o peso dos sistemas em que as pessoas vivem. Culpar apenas a economia, a tecnologia ou a política ignora que escolhas individuais e comunitárias também fazem diferença.
Os sistemas atuais, de trabalho, de educação, de alimentação, de moradia, de mídia, criam um contexto que aumenta o risco de adoecimento mental. Mas dentro desse contexto ainda existem espaços de ação: famílias que se apoiam, comunidades que se organizam, escolas que inovam, empresas que mudam rotas, pessoas que buscam ajuda e aprendem a cuidar melhor da própria mente.
A conversa entre o psiquiatra e o guru simboliza algo maior. Sociedades que dedicaram séculos a dominar o mundo externo, terras, máquinas, energia, dados, dedicaram muito menos tempo a aprender, de forma sistemática, a cuidar do mundo interno. Ler, escrever e fazer contas viraram habilidades básicas. Regular a atenção, lidar com emoções difíceis, observar pensamentos sem se perder neles e pedir ajuda quando necessário ainda são, muitas vezes, tratados como “dons” individuais ou questões de personalidade.
Se as projeções se confirmarem e a depressão e a ansiedade se mantiverem entre as principais causas de incapacidade nas próximas décadas, será difícil manter ganhos de produtividade, inovação e coesão social sem uma mudança mais profunda. Ensinar saúde mental nas escolas, tornar ambientes de trabalho menos destrutivos, melhorar a qualidade dos alimentos, reduzir exposições tóxicas, fortalecer redes de cuidado comunitário e investir mais em serviços de saúde mental deixará de ser visto apenas como gesto humanitário. Vai se tornar uma condição básica para que sociedades funcionem.
No fim da transmissão, o guru lembra que a humanidade é “uma vida microscópica neste cosmos” e que, em termos de universo, cada biografia é um instante. Essa frase pode parecer distante do cotidiano. Mas, na prática, ela convida a relativizar uma parte das urgências artificiais que nos mantêm em estado permanente de ansiedade.
A verdadeira irresponsabilidade talvez não esteja em ter crises, isso é humano. Está em tratar esse sofrimento como algo inevitável, como se não fosse possível mudar nada na maneira como vivemos, organizamos o trabalho, educamos nossas crianças e desenhamos nossas cidades.
O século XXI provavelmente será lembrado por suas invenções tecnológicas, vacinas, baterias, inteligência artificial e avanços científicos em geral. Se quisermos que ele seja lembrado também como o século em que aprendemos a conviver melhor com a nossa própria mente, será preciso ir além de remédios, aplicativos e frases motivacionais.
Será necessário trocar parte da compulsividade, de produzir, de consumir, de reagir sem pensar, por uma responsabilidade compartilhada sobre como pensamos, sentimos e organizamos nosso tempo. Essa conversa já começou. O próximo passo é transformá-la em ação concreta, em políticas públicas, em mudanças nas empresas e nas nossas rotinas diárias.